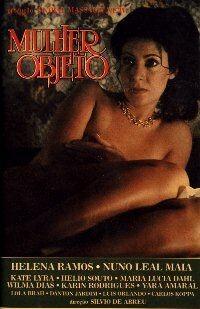Leitores apressados julgam um livro pela capa. No máximo vão ao prefácio, conferem a dedicatória, lêem as orelhas ou escolhem uma página ao acaso, citando parágrafos, para induzirem o interlocutor mais próximo ao erro. Leitores atentos, por sua vez, não apenas decifram os livros. São capazes de escrever livros sobre os livros que reconhecem como bons.
Um espectador apressado julga o galã das pornochanchadas dos anos 70, Carlo Mossy, como um ator de recursos limitados – um figurante de segunda linha no panorama do cinema brasileiro daquele tempo. Mossy realmente trabalhou em filmes muito ruins e em outros que são interessantes apenas para quem cultua a época em que foram feitos – “Essa gostosa brincadeira a dois”, que resenhei aqui há algum tempo, se encaixa nesse segundo grupo. Mas quem prestar atenção e virar as páginas da carreira deste múltiplo realizador cinematográfico – foi ator, diretor, produtor e até sonoplasta! – vai encontrar trechos quase perdidos e preciosos de história.
“Ódio”, filme de 1977, dirigido e atuado por Mossy, talvez seja o maior deles. “Ódio” não se trata de um filme policial violento. Ele, na realidade, subverte o que seja o modelo deste tipo de gênero, para criar uma espécie de “supra-violência” – tão inacreditável do ponto de vista ficcional, que chega a parecer em certos trechos um documentário em câmera aberta.
Roberto (Mossy) é um advogado, que ao visitar sua família no interior do estado do Rio chega na hora errada e acompanha a chacina dos parentes por funcionários da fazenda onde viviam. Por um descuido dos bandidos, é o único sobrevivente. Depois de longo período de convalescência, decide se vingar, e tal qual um Charles Bronson carioca sai em busca de cada um dos assassinos. O filme tem um fim óbvio, mas o importante não é a história contada, e sim a maneira brutal que o diretor escolheu para contá-la.
A chacina da família de Roberto é mostrada em detalhes, não detalhes de violência gráfica, parte integrante de qualquer thriller, mas uma tensão psicológica como poucas vezes se viu no cinema mundial. São quinze minutos initerruptos de gritaria, tortura e sadismo, lembrando em certos momentos o melhor cinema de Sam Peckinpah ou o clássico de Wes Craven, “Last house on the left”. A diferença é que o cinema de Mossy fala nossa língua – e isso incomoda e aterroriza muito mais.
As atuações são primorosas e, por muito menos, em Hollywood se presenteiam diretores e atores com o Oscar. Mossy não fez sua melhor performance como ator – devia estar possuído, dirigindo –, pois Atila Iório, Celso Faria, Ivan de Almeida e Jotta Barroso roubam a cena no papel dos bandidos. Cada um deles, depois do assalto e da chacina, encontra um rumo torto para seu destino. A demonstração da vida inútil e desgraçada desses homens, após o intento bestial, merecia uma reflexão sociológica séria; igualmente a amizade entre Roberto, Toninho e Diva – um jovem marginalizado que o acolhe e uma lutadora de boxe que se apaixona pelo advogado vingador.
Na trilha sonora, outro chocante achado. De um disco do compositor francês chamado Saint Preux, “Concerto pour une voix” de 1969, foram extraídas várias seqüências de ambientação, tendo o conhecidíssimo tema principal homônimo como guia. A construção psicológica dos personagens, por trás da miséria deprimente de suas vidas, também se mostra sutil, quase inesquecível.
“Ódio” é uma produção da “Vidya Produções Cinematográficas”, que Moisés Abraão Goldszal (o verdadeiro nome de Mossy) mantinha junto com Victor di Mello, também cineasta. A “Vidya” repartia nos filmes seu risco e custo com a Embrafilme – e com certeza, nos seus melhores momentos, representou algum do dinheiro mais bem empregado pela estatal na década de 70.
Quem discorde que me desculpe, mas não troco os quinze minutos iniciais de “Ódio”, ou a cafajestagem libertária de “Giselle”, por nenhum desses filmes que habitam as listas dos “dez mais” da intelligentsia brasileira. Com obras desse porte, Mossy perdeu qualquer respeito dos pseudointelectuais – e virou motivo de desprezo no meio em que lutava para sobreviver. Mas hoje, quase trinta anos depois, pode colher sua glória através dos que amam o cinema como arte, não como mero instrumento ideológico de uma nomenklatura.